São “estórias” que ajudam a compreender a formação moderna de Timor-Leste, na sua ligação a Macau e à Coroa portuguesa, e, depois, à República, além da Igreja Católica, oferecendo resistência ao espírito do liberalismo e da democracia republicana, se bem que terminando por lutar a favor da autodeterminação e da independência total, assumindo, pois, pela prática secular e cívica da agregação, o espírito republicano. Já desde os séculos XVII e XVIII que se levantaram guerras do que seria uma proto-independência, envolvendo alguns beneficiários de guerras e comércios locais contra os holandeses e seus aliados. Em Timor, desde o século XVI, comercializava-se o sândalo (árvore cujos produtos têm aplicação na perfumaria e em medicamentos), o mel e a cera. O valioso comércio do sândalo sustenta os conflitos em torno do controle das rotas comerciais, das alianças étnicas, tribais e clânicas, dos serviços às coroas europeias e das dependências religiosas. Só no século XIX é introduzida a cultura do café, devido à perda por Portugal das produções brasileiras, a partir de 1822, e porque o café de São Tomé e Príncipe deu lugar à cultura do cacau.
A entrada no século XX fez-se sob o pesadelo dessas “guerras de pacificação”, assim apelidadas pela historiografia soft dos portugueses, sob o consulado do governador Celestino da Silva, enviado pela Coroa, que deixaram um rasto de sangue e dominação, em tudo semelhante ao que aconteceu noutras colónias. Os timorenses e chineses – por via da sua interligação administrativa e comercial – sempre foram vistos como adversários ajuramentados dos timorenses ocidentais e indonésios, não sendo desprezável o papel religioso quer do cristianismo em Timor, quer do islamismo em Jacarta.
Na segunda história, “O cofre e a espada”, o governador Filomeno da Câmara, enviado pela jovem república portuguesa, recebeu em herança um Timor acossado pelos holandeses e timorenses ocidentais. Narra-se a derrota de D. Boaventura de Manufhai, face à política repressiva, sanguinária, do governador Filomeno, com o seu cortejo de horrores e violações e seguimos as mutações ideo-políticas da personagem segundo uma perspectiva ficcional que nos mostra a sua desorganização corpórea e a sua “doença de origem moral” (que o episódio do espelho reforça), homóloga da desorganização corpórea do povo timorense, no que parece constituir uma brilhante associação entre a psique perturbada e o status totémico do poder, que Freud, Foucault, Bourdieu e Arendt não desdenhariam subscrever. Assistimos, em traços rápidos, à sua passagem do republicanismo a uma espécie de cesarismo e à posterior assunção fascista, acabando por chefiar a revolução tramontana de Abril de 1925 e implicando-se, depois, no 28 de Maio de 1926. Mais tarde, no começo da década de 30, conforme a História registou, Filomeno terminou abruptamente a sua carreira colonialista em Angola, ao ser confrontado com uma revolta popular, em relação à qual ordenou uma brutal repressão.
Ao contar a história do governador Filomeno e a repressão sobre os timorenses, a escritora Joana Ruas está a enquadrar num contexto compreensível a vida de Inkay – a Mãe Amorosa ou Avozinha –, que foi a viúva-rainha de Boaventura da Costa Fernandes Soto Mayor, rei de Manufahi, das terras de milhares e milhares de pés de café, outrora de sândalo. Quando jovem, Inkay fora violada pelo tenente Luís Alves da Silva, com a esposa do qual a primeira mulher de Boaventura, chamada Kaisery, travara amizade. A mesma Inkay, em 1974, recebeu uma delegação da FRETILIN (Frente de Libertação de Timor) e deixou-se fotografar com líderes do povo timorense, como Nicolau Lobato (depois, falecido em combate), Ramos Horta (chefe da diplomacia), Borja da Costa (também falecido durante a invasão indonésia), Leopoldo Joaquim e José Luís Guterres. Em 1978, Inkay viria a morrer de fome, em consequência da invasão de Timor pela Indonésia. A sua história, uma espécie de história de vida ao gosto dos relatos dos sociológos profissionais, implica certa aceitação inelutável do decurso do tempo, numa filosofia que, parecendo resignação submissa, talvez seja, ao invés, uma metafísica da sobrevivência que possibilita a continuidade das gerações e, por isso mesmo, a edificação do Estado-nação.
A cena do espelho, em que Filomeno se assusta com o que vê (ou, como afirmam alguns filósofos da ética, em que os olhos e a face não mentem, tal a impossibilidade de dissimulação, bastando saber lê-los), vislumbrando no seu próprio olhar a imagem do jovem guerreiro que matara num combate desigual, pois ele queria apenas salvar o cavalo que adorava como a um qualquer pequeno deus, essa cena especular/especulativa devolve-lhe o rosto do desamor por si próprio, da incapacidade de se dar aos outros. A cena de um Narciso às avessas, contemplando o horror da sua própria face, é sintomática do impedimento de certos protagonistas históricos poderem compreender o diverso e aceitar uma filosofia da tranquilidade e da convivência democrática e humanista, tão presente nas deambulações antropológicas e poéticas destas narrativas.
O facto de a autora referir teóricos como Adorno e Erich Fromm, ou Marcel Mauss e, no plano fictivo, Rafael Toscano, um antropólogo e poeta que surge na crónica “Fulan Mutin (Branca flor)” mostrando parecenças com Ruy Cinatti, indica que, para além de uma leitura da História, o que confere densidade substancial à essência desses nomes históricos, ditos concretos, é sobretudo a espessura de um comportamento que, arrancado à longa duração, se nos apresenta, naquele preciso instante, como apropriado a um ser corpóreo atravessado por dúvidas e angústias. A ficção de Joana Ruas questiona, desse modo, o retrato sólido e inquebrável dos espíritos totalitários, dos psicopatas do poder (veja-se o pensamento de Filomeno sobre o Poder Absoluto), para os transformar, na encarnação de Filomeno da Câmara, em títeres de poderes mais altos e amplos que os podem sujeitar ao remorso especular. Pelo menos, instala-se a dúvida, neste caso timorense; resta saber se não será humanizar demasiado estes monstros saídos directamente da pré-história para a depredação republicana de povos indefesos.
Do mesmo modo, não é pela brutalidade directa do combate, mas através da particularidade de um japonês escapado à retirada do seu exército, que se perde no território maubere, que nos apercebemos da violência extrema da guerra. A ocupação japonesa, o bombardeio de Díli, o desaparecimento de povoações são assuntos resumidos, a que só a condição do japonês escapado à retirada das tropas, a sua clandestinidade, sofrimento, sobrevivência e morte lenta, narrados com delicadeza e poesia, conferem a expressão da ruína colectiva e dos efeitos directos e colaterais. A antropologia em torno de Uma-lulik, o lugar sagrado dos mortos, onde se acoita e sobrevive o nipónico Yasukichi, estabelece uma corrente de solidariedade, encanto e sedução espiritual entre ele e a timorense Duli, tal como outras antropologias compreensivas inseridas nestas crónicas, na busca de autenticidade e verosimilhança, e constitui um trecho de comovente beleza sentimental.
As referências à cultura poética japonesa, citando inclusive Bushô, ou à cultura javanesa, nesta história, como depois noutras, à história de Angola, à revista Cultura, revitalizada no final dos anos 50, e ao poeta e militante Agostinho Neto, atestam a interculturalidade no âmbito dito lusófono e a vontade de deixar exarada a marca das opções políticas. Em “Fulan Mutin”, cujo subtexto é a história tradicional de Branca Flor, essas notações, com pormenorizados efeitos de real, melhor ajudam a explanar a condição feminina de Beatriz, angolana, branca “de segunda”, que, sendo uma mulher próxima do povo timorense pela afectividade e bonomia espontâneas, mais a ele se cola pela sua situação humilhante de esposa sequestrada por um marido português “de primeira” (de Coimbra), oportunista e sem escrúpulos. A missiva que Beatriz recebe do seu irmão Raul, perdido na guerra colonial em Angola, esclarece-a sobre a natureza do regime salazarista da metrópole, despertando-a para a libertação pessoal do casamento, tal como a explicação da aliança de cristãos e muçulmanos contra os ateus e comunistas na Indonésia ao serviço da ditadura de Suharto funciona como iluminação política da época conturbada na Indonésia, em que foram assassinados centenas de milhar de simpatizantes do regime popular de Sukarno, mostrando como essa perseguição à democracia se estendeu, depois, a Timor-Leste. Beatriz é uma das personagens principais destas crónicas, por nela se identificar a condição adversa da mulher, ainda que branca e casada com homem português. A prosa de Joana Ruas, deve insistir-se neste ponto, persegue o ideal de refazer e relembrar a História, para que não caia no esquecimento, não com o carnaval da fantasia maravilhosa, mas com o propósito estimulante de mostrar os mecanismos de construção do poder e a ruína e miséria do povo desprevenido e desprotegido. A eficácia de processos lembra o jornalismo, que o conceito do género cronístico reforça, todavia com a delicadeza lírica que certas histórias encaixadas emprestam à narração, como as do amor e grandeza de Inkay ou de Yasukichi.
As quatro crónicas-narrativas referem tempos, reinos e protagonistas históricos e fictivos diferentes, num fresco que procura levar o leitor à aproximação à “questão timorense”, à construção do seu percurso no rumo da nação, da pátria e do país independente que hoje conhecemos. Esse percurso foi construído dialecticamente na luta das etnias, castas e classes contra os ocupantes portugueses, malaios, holandeses, japoneses, indonésios e australianos. O sentido do ethnos congregador e da civitas nacional emerge dessa primeva luta contra a espoliação e a opressão.
O enquadramento histórico sofre um confronto afectivo, ético e ideológico em vários episódios, em que alguns protagonistas emergem como que ilustrando o geral com a sua história e o seu comportamento edificantes, conferindo espessura cultural e intelectual às suas acções, explicando-as melhor, não de maneira basicamente positivista, mas, de certo modo, recuperando a ideia, que parece acertada, de que certas atitudes são apenas o desabrochar do ovo da serpente. Neste sentido, a condição feminina timorense é alicerçada numa teia tradicionalista de costumes patriarcais, másculos e guerreiros e de alianças políticas complexas, em que à mulher se reserva o papel de reprodutora, esposa sem voz, madrinha do lar e mão-de-obra doméstica de subsistência. Em contextos adversos, já não é pouca coisa. Que algumas personagens femininas – como Inkay ou Duli – se destaquem enquanto figuras simbólicas da ousadia de ultrapassarem as barreiras familiares e de vizinhança, para se afirmarem como protótipos a caminho da emancipação da tutela étnica, não pode deixar de ser também o resultado da perturbação introduzida na sociedade pelos tempos coloniais e pela guerra, com a intromissão agressiva, violenta, dos outros na mesmice da cultura insulada. Ou seja, a violência da colonização e da guerra, da dominação e da usurpação ocasiona a revolta e determina a mudança, com o correlato acesso à modernidade. Com estas crónicas, reforçamos a ideia assustadora, uma vez mais, de que, desde o século XVIII ao século XX, tanto em Timor como em Angola, Moçambique ou na China, a entrada dos povos na modernidade se faz através das armas nas mãos dos homens, pela porta do massacre, da rapina e da razia de algumas culturas locais.
Bibliografia
CRISTÓVÃO, Fernando (org.) et alii, Dicionário temático da lusofonia, Lisboa, Texto, 2005.
RUAS, Joana, Crónicas timorenses, Coimbra, Calendário, 2009.
RUAS, Joana, Corpo colonial, Coimbra, Centelha, 1981.
RUAS, Joana, A batalha das lágrimas, Coimbra, Calendário, 2008.
Pires Laranjeira é professor de Literaturas e Culturas Africanas na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, integrando o seu Centro de Literatura Portuguesa como investigador, tendo publicado vários livros e ainda artigos em dezenas de publicações periódicas:
A negritude africana de língua portuguesa, Porto, Afrontamento, 1995 (Dissertação de doutoramento).
"Língua e literatura nos países africanos de língua oficial portuguesa" in Língua mar, 2ª ed., Rio de Janeiro, FUNARTE, 1997, pp. 83-99."
As literaturas africanas de língua portuguesa – identidade e autonomia", in Scripta, vol. 3 (2000), Belo Horizonte, PUC/MINAS, pp. 237-244.
"As categorias da poesia (com referências à Negritude)", in José Luis Rodríguez (ed.), Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero, tomo II, Santiago de Compostela, Parlamento da Galiza/Universidade de Santiago de
Compostela, 2000, pp. 329-336.
"O estudo das literaturas africanas de língua portuguesa (1ª parte)", in Xicóatl. Estrella Errante. Magazin Cultural Latinoamericano, 51 (Nov.-Dez. de 2000), Salzburgo, Yage, pp. 10-12 e 10-12 (português e alemão).
idem, 2ª parte, idem, 52 (2001), pp. 10-12 e 10-12 (português e alemão).
Para uma sociocrítica da narrativa de João Melo: a violência das relações afectivas, sociais, entre homens e mulheres” (prefácio), in João Melo, Imitação de Sartre & Simone de Beauvoir, 2ª ed., Lisboa, Caminho, 1999, pp. 11-25
Le monde lusophone (chapitre V): la littérature coloniale portugaise”, in Jean Sévry (ed.), Regards sur les littératures coloniales. Afrique anglophone et lusophone, tomo III, Paris, L’Harmattan, 1999;
Negritude africana de língua portuguesa. Textos de apoio (1947-1963) (org.), Braga, Angelus Novus, 2000;
A poesia de fim-se-século e o Realismo”, in Carlos Reis (org.), História da literatura portuguesa. O Realismo e o Naturalismo, vol. 5, Lisboa, Alfa, 2001, pp. 361-395;
“Mia Couto e as literaturas africanas de língua portuguesa”, in Revista de Filología Románica. Anejos, II (2001), Madrid, Universidade Complutense, pp. 185-205;
Estudos afro-literários, Lisboa, Novo Imbondeiro, 2001;
Responsável, no Dicionário de Literatura, organizado pelo Prof. Jacinto do Prado Coelho, pelas partes de actualização da literatura brasileira (de 1500 a 2001, sobretudo de 1960-) e de criação das literaturas africanas, num total de mais de 450 verbetes;
Vários artigos para a Biblos – Enciclopédia das Literaturas, com dir. do Prof. Aníbal Pinto de Castro.
 La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
La Otra | Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras Revista de poesía + Artes visuales + Otras letras
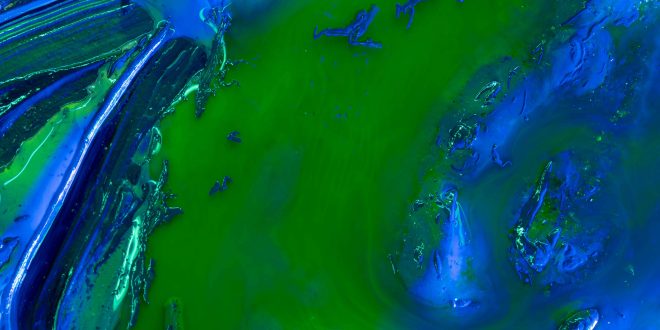



4 comentarios